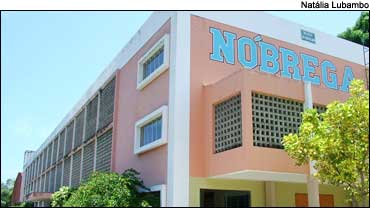
Como estudava no Colégio Nóbrega e o portão dos alunos era na rua do Príncipe, eu costumava flertar com aquela moça à saída das aulas sempre. Com a aproximação das férias, precisei tomar uma atitude, falar namoro, dizia-se à época. Fui bem aceito, mas os meus amigos do time de futebol e aqueles do papo de todas as horas nunca me dispensaram e o apelido da menina corria solto: “Boca de Caçapa”. Em função da jovem namorada usar uma prótese dentária frontal. Nunca entendi o caso, pois caçapa é o saco do jogo de sinuca; saco objeto de todas as tacadas dos craques da mesa. E a boca da suplicante não era assim tão feia. Ela foi das primeiras pessoas no Recife a migrar para os Estados Unidos, onde, aliás, morava um colega meu de Grupo Escolar, com quem cheguei a me corresponder por algum tempo. Ele, inclusive, conseguiu uma amiga que me escreveu, mandou fotografia, mas eu nunca respondi, porque de inglês pouco sabia. Mas, a foto levantava a auto-estima, sempre que olhava. Retrato grande, oferecido em inglês.
 Essas coisas são interessantes, passam e depois de 50 anos afloram dessa forma, ao sabor da pena ou ao sabor do movimento dos dedos no teclado. Como emerge agora um outro namoro, com aquela quase vizinha, a quem sete vezes me acheguei e de quem sete vezes me distanciei, por iniciativa dela. Eu era um abestalhado, pois acabava o idílio – eu chamava desse jeito –, mas reatava, quando na radiola de sua casa rodava um disco tocando uma música, cuja letra de tão velha sequer a Internet é capaz de registrar: “Volta/Vem rever nossos jardins/Vem amor/Nunca mais te afastarás de mim!”. E a grande rede de computadores dispõe de tudo ou de quase tudo. Se o leitor puder me ajudar, que ajude. Não sei quem canta, só sei que ela tinha o hábito de ouvir Núbia Lafayette e Dalva de Oliveira, mas não posso confirmar de quem era voz tão maviosa, depois de tantas décadas vencidas.
Essas coisas são interessantes, passam e depois de 50 anos afloram dessa forma, ao sabor da pena ou ao sabor do movimento dos dedos no teclado. Como emerge agora um outro namoro, com aquela quase vizinha, a quem sete vezes me acheguei e de quem sete vezes me distanciei, por iniciativa dela. Eu era um abestalhado, pois acabava o idílio – eu chamava desse jeito –, mas reatava, quando na radiola de sua casa rodava um disco tocando uma música, cuja letra de tão velha sequer a Internet é capaz de registrar: “Volta/Vem rever nossos jardins/Vem amor/Nunca mais te afastarás de mim!”. E a grande rede de computadores dispõe de tudo ou de quase tudo. Se o leitor puder me ajudar, que ajude. Não sei quem canta, só sei que ela tinha o hábito de ouvir Núbia Lafayette e Dalva de Oliveira, mas não posso confirmar de quem era voz tão maviosa, depois de tantas décadas vencidas. Lembro, no entanto, que na rua apareceu um figurante novo, um gaúcho, filho de um aviador – era o nome que se dava –, comandante da velha Pannair do Brasil, falando com o sotaque que impressionava e impressionou a penitente, encantando-a. Ele não dizia “Você”, engolia as letras e pronunciava apenas o “Cê”, de forma que tendo me encontrado, eu de bicicleta e ele andando a pé, numa volta que dei no quarteirão, de reconhecimento, buscando a presença de intrusos, me abordou: “Cê” já comprou alguma coisa para casar com Estela (nome fictício)? Ao que respondi: “Não! Só tenho 14 anos de idade e não penso em casar!”. Mas, o nosso amigo “Cê” já tinha providenciado um liquidificador e a louça do café. A namorada, não precisa adiantar, com a mesma idade, foi bater nos braços do outro e eu fiquei a ver navios mais uma vez. Depois dessa ruptura e dessa oportunidade, nunca mais a vi, senão uma vez, queixando-se da vida e do casamento. Mas, não casara com “Cê”! Talvez tenha sido a minha vingança!
Lembro, no entanto, que na rua apareceu um figurante novo, um gaúcho, filho de um aviador – era o nome que se dava –, comandante da velha Pannair do Brasil, falando com o sotaque que impressionava e impressionou a penitente, encantando-a. Ele não dizia “Você”, engolia as letras e pronunciava apenas o “Cê”, de forma que tendo me encontrado, eu de bicicleta e ele andando a pé, numa volta que dei no quarteirão, de reconhecimento, buscando a presença de intrusos, me abordou: “Cê” já comprou alguma coisa para casar com Estela (nome fictício)? Ao que respondi: “Não! Só tenho 14 anos de idade e não penso em casar!”. Mas, o nosso amigo “Cê” já tinha providenciado um liquidificador e a louça do café. A namorada, não precisa adiantar, com a mesma idade, foi bater nos braços do outro e eu fiquei a ver navios mais uma vez. Depois dessa ruptura e dessa oportunidade, nunca mais a vi, senão uma vez, queixando-se da vida e do casamento. Mas, não casara com “Cê”! Talvez tenha sido a minha vingança! Naqueles anos os namoros e os contactos todos entre meninos e meninas eram sempre muito distantes. Passava-se uma semana para se pegar na mão e um mês para se enlaçar a moça com os braços sobre os ombros. Um beijo simples se dava aos seis meses e a boca era território sagrado, sendo abordada com um ano, se a memória não me trai. Por isso, me admirei muito quando a babá de casa quase me seduziu, aos 11 ou 12 anos de idade. Não se falava em pedofilia naquela década agora tão distante. Mas hoje em dia, teria sido um caso para qualquer programa de polícia, prato cheio para o espaço televisivo de Datena, o apresentador da tarde. E parodiando o mestre Paulo Cavalcanti: “O Caso eu Conto como o Caso Foi”. Lembro que tendo sido criado com vó, só tinha dois caminhos: Ficar doido ou abilolado. Fiquei doido.
Naqueles anos os namoros e os contactos todos entre meninos e meninas eram sempre muito distantes. Passava-se uma semana para se pegar na mão e um mês para se enlaçar a moça com os braços sobre os ombros. Um beijo simples se dava aos seis meses e a boca era território sagrado, sendo abordada com um ano, se a memória não me trai. Por isso, me admirei muito quando a babá de casa quase me seduziu, aos 11 ou 12 anos de idade. Não se falava em pedofilia naquela década agora tão distante. Mas hoje em dia, teria sido um caso para qualquer programa de polícia, prato cheio para o espaço televisivo de Datena, o apresentador da tarde. E parodiando o mestre Paulo Cavalcanti: “O Caso eu Conto como o Caso Foi”. Lembro que tendo sido criado com vó, só tinha dois caminhos: Ficar doido ou abilolado. Fiquei doido. Era uma tarde de janeiro, penso eu, caia uma chuva-de-caju, com tudo a que tinha direito: raios, relâmpagos e trovões. Estavam reunidas no alpendre as mulheres de casa: minha avó, minha mãe e a tia mais nova. Mandaram que fosse tomar banho e designaram a babá recém chegada para me enxugar. De nada serviu dizer que não precisava mais desses serviços ou desses achegos e até desses aconchegos. O medo da gripe assustava toda gente e a moça, vencido o meu tempo na água, subiu os 17 degraus da escada e adentrou o banheiro. Quando abriu a toalha eu já estava de pé numa cadeira antiga, de cor preta, trazida de encomenda da casa de minha avó materna. Uma preciosidade de móvel, pintada depois – em reparação? – de branca. Não entendi a perplexidade da criatura, nova também, talvez nos seus 16 ou 17 anos de idade.
Era uma tarde de janeiro, penso eu, caia uma chuva-de-caju, com tudo a que tinha direito: raios, relâmpagos e trovões. Estavam reunidas no alpendre as mulheres de casa: minha avó, minha mãe e a tia mais nova. Mandaram que fosse tomar banho e designaram a babá recém chegada para me enxugar. De nada serviu dizer que não precisava mais desses serviços ou desses achegos e até desses aconchegos. O medo da gripe assustava toda gente e a moça, vencido o meu tempo na água, subiu os 17 degraus da escada e adentrou o banheiro. Quando abriu a toalha eu já estava de pé numa cadeira antiga, de cor preta, trazida de encomenda da casa de minha avó materna. Uma preciosidade de móvel, pintada depois – em reparação? – de branca. Não entendi a perplexidade da criatura, nova também, talvez nos seus 16 ou 17 anos de idade. Aproximou-se e me enxugou como nunca tinham feito, com todos os afagos do mundo. Um certo exagero, imaginei! Depois, me chamou para o quarto, com a desculpa de me vestir e tendo aberto as pernas mostrou as suas intimidades, dizendo: “Passa aqui!”. Eu não sabia bem de que se tratava. Tinha ouvido o galo cantar, mas sem noção do terreiro. Era uma idéia vaga, a partir de uma conversa com o grande Sérgio Jibóia, Cacique Moroubixaba Primeiro e Único. Fiquei de tal forma transtornado – o leitor compreende –, que não podia sair dali, mesmo ouvindo um carão: “Menino! Avia! Para com isso! Fica normal!”. O normal era aquilo mesmo, aquela situação inusitada que tinha passado e ainda passava. E as coisas continuaram, sem uma finalização, é claro. Um dia, talvez como forma de cortar a situação, estranha para mim, ou mesmo como uma maneira de expiar minhas culpas, denunciei a menina, pelo simples fato de não ter trazido um copo d’água: “ Papai! Damiana (nome fictício) vive me mostrando o pipi!”. Imagine o leitor o que houve! Meu pai queria prender a moça e no dia seguinte, sob a proteção de minha avó – sempre minha avó – a criatura pegou a maleta e se foi. Se arrependimento matasse eu era um homem morto. Valha-me Deus do céu!
Aproximou-se e me enxugou como nunca tinham feito, com todos os afagos do mundo. Um certo exagero, imaginei! Depois, me chamou para o quarto, com a desculpa de me vestir e tendo aberto as pernas mostrou as suas intimidades, dizendo: “Passa aqui!”. Eu não sabia bem de que se tratava. Tinha ouvido o galo cantar, mas sem noção do terreiro. Era uma idéia vaga, a partir de uma conversa com o grande Sérgio Jibóia, Cacique Moroubixaba Primeiro e Único. Fiquei de tal forma transtornado – o leitor compreende –, que não podia sair dali, mesmo ouvindo um carão: “Menino! Avia! Para com isso! Fica normal!”. O normal era aquilo mesmo, aquela situação inusitada que tinha passado e ainda passava. E as coisas continuaram, sem uma finalização, é claro. Um dia, talvez como forma de cortar a situação, estranha para mim, ou mesmo como uma maneira de expiar minhas culpas, denunciei a menina, pelo simples fato de não ter trazido um copo d’água: “ Papai! Damiana (nome fictício) vive me mostrando o pipi!”. Imagine o leitor o que houve! Meu pai queria prender a moça e no dia seguinte, sob a proteção de minha avó – sempre minha avó – a criatura pegou a maleta e se foi. Se arrependimento matasse eu era um homem morto. Valha-me Deus do céu!(*) Um artigo dos meus anos e dos meus tempos. Lembranças pitorescas, dolorosas ou generosas, dos meus dias. Uma indagação também ao leitor sobre a letra de uma música que me ficou gravada, em parte apenas, na memória. Comente se desejar ou não comente. Use os e-mails pereira@elogica.com.br ou pereira.gj@gmail.com