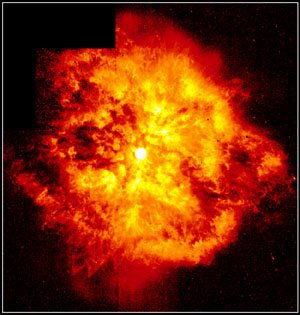Nos ares do Recife correm soltos os acordes de Gonzaga, entoando a poesia de Zé Dantas, de Humberto Teixeira ou de João Silva, chova ou faça sol. Lições que o tempo não há de destruir. Das convivências humanas e dos convívios com a natureza, sobretudo com os sertões e os agrestes secos, esturricados, onde "...a lama virou pedra/E o mandacaru secou/Quando a ribaçã de sede/Bateu asas e vuou.../". Mas, de tudo o que cantou, nos versos dos amores e dos desamores, impressiona a volta pra casa, o encontro com Januário, com quem aprendeu os segredos dos oito baixos. “Quando eu voltei lá no sertão/Eu quis mangar de Januário/..../Mas antes de fazer bonito de passagem por Granito/Foram logo me dizendo/De Itaboca a Rancharia, de Salgueiro a Bodocó/Januário é o maior/.../Luiz respeita Januário/...”
Nos ares do Recife correm soltos os acordes de Gonzaga, entoando a poesia de Zé Dantas, de Humberto Teixeira ou de João Silva, chova ou faça sol. Lições que o tempo não há de destruir. Das convivências humanas e dos convívios com a natureza, sobretudo com os sertões e os agrestes secos, esturricados, onde "...a lama virou pedra/E o mandacaru secou/Quando a ribaçã de sede/Bateu asas e vuou.../". Mas, de tudo o que cantou, nos versos dos amores e dos desamores, impressiona a volta pra casa, o encontro com Januário, com quem aprendeu os segredos dos oito baixos. “Quando eu voltei lá no sertão/Eu quis mangar de Januário/..../Mas antes de fazer bonito de passagem por Granito/Foram logo me dizendo/De Itaboca a Rancharia, de Salgueiro a Bodocó/Januário é o maior/.../Luiz respeita Januário/...”  É isso, o pai nem sempre é reconhecido pelo filho, senão quando a voz das ruas chama a atenção para um saber assim, transferido nas horas de casa, alertando, então, a criatura que se julga nos patamares dos êxitos e das glórias, tantas vezes inglórias. Mas, Luiz teve a grandeza de contar e de cantar, aos quatro ventos, a sua sina, a de ter desprezado os dotes de Januário e a de reconhecer, em seguida, a grandeza do pai, antecipador de si próprio, em tardes ensolaradas, enquanto consertava sanfonas alheias ou em noites de lua cheia, arrancando do fole a melosa sonoridade do baião. Toda gente teve ou tem um Januário, pessoa que muito ou pouco transmitiu a experiência do existir terreno, marcou os dias de infância e aqueles da adolescência, traçando caminhos e apontando estradas, ajudando a superar percalços, que são pedras nas alamedas do cotidiano.
É isso, o pai nem sempre é reconhecido pelo filho, senão quando a voz das ruas chama a atenção para um saber assim, transferido nas horas de casa, alertando, então, a criatura que se julga nos patamares dos êxitos e das glórias, tantas vezes inglórias. Mas, Luiz teve a grandeza de contar e de cantar, aos quatro ventos, a sua sina, a de ter desprezado os dotes de Januário e a de reconhecer, em seguida, a grandeza do pai, antecipador de si próprio, em tardes ensolaradas, enquanto consertava sanfonas alheias ou em noites de lua cheia, arrancando do fole a melosa sonoridade do baião. Toda gente teve ou tem um Januário, pessoa que muito ou pouco transmitiu a experiência do existir terreno, marcou os dias de infância e aqueles da adolescência, traçando caminhos e apontando estradas, ajudando a superar percalços, que são pedras nas alamedas do cotidiano. E Gonzagão, voltado que foi para as paixões femininas, chorou as perdas e exaltou a mulher, a de seus desejos e de suas vontades, nem sempre satisfeitos. Eis o pranto de quem não conseguiu firmar parecerias: “Nem se despediu de mim/Nem se despediu de mim/Já chegou contando as horas/Bebeu água e foi-se embora/Nem se despediu de mim/....” E no poema do Assum Preto, cego dos olhos pra cantar melhor, faz a metáfora das rupturas: “Assum Preto, o meu cantar/É tão triste como o teu/Também roubaram o meu amor/Que era a luz dos olhos meus...” Mas, o romantismo do homem aflora nos versos de Zé Fernandes: “.../Foi numa noite igual a esta/Que tu me deste o teu coração/O céu estava, assim em festa/Pois era noite de São João/Havia balões no ar/Xóte, baião no salão/E no terreiro/O teu olhar, que incendiou/Meu coração/...”
E Gonzagão, voltado que foi para as paixões femininas, chorou as perdas e exaltou a mulher, a de seus desejos e de suas vontades, nem sempre satisfeitos. Eis o pranto de quem não conseguiu firmar parecerias: “Nem se despediu de mim/Nem se despediu de mim/Já chegou contando as horas/Bebeu água e foi-se embora/Nem se despediu de mim/....” E no poema do Assum Preto, cego dos olhos pra cantar melhor, faz a metáfora das rupturas: “Assum Preto, o meu cantar/É tão triste como o teu/Também roubaram o meu amor/Que era a luz dos olhos meus...” Mas, o romantismo do homem aflora nos versos de Zé Fernandes: “.../Foi numa noite igual a esta/Que tu me deste o teu coração/O céu estava, assim em festa/Pois era noite de São João/Havia balões no ar/Xóte, baião no salão/E no terreiro/O teu olhar, que incendiou/Meu coração/...” Na flexão da rima de Zé Dantas está a beleza dos sertões recuperados, quando volta a asa branca, sob a força luminosa dos relâmpagos e a sonoridade retumbante dos trovões. O sertanejo, então, um desertor das secas, chega e vem cuidar da plantação. Para o poeta foi Deus quem se “alembrou” de mandar a chuva. E na improvisação da hora, insiste que o povo segue alegre, mais alegre que a natureza. Que beleza! Na criação das rimas, forjando o poema que virou cantoria, o autor foi buscar na memória a imagem de Rosinha: “...A linda flor do meu/Sertão pernambucano/...” E convoca o vigário, pois que se não forem atrapalhados os planos e a boa safra chegar, com certeza, vai casar. E depois, já com Helena das Neves tomada por esposa, deu o nome de Rosinha a uma de suas filhas. Se foi de boa lembrança não se sabe e não se viu!
Na flexão da rima de Zé Dantas está a beleza dos sertões recuperados, quando volta a asa branca, sob a força luminosa dos relâmpagos e a sonoridade retumbante dos trovões. O sertanejo, então, um desertor das secas, chega e vem cuidar da plantação. Para o poeta foi Deus quem se “alembrou” de mandar a chuva. E na improvisação da hora, insiste que o povo segue alegre, mais alegre que a natureza. Que beleza! Na criação das rimas, forjando o poema que virou cantoria, o autor foi buscar na memória a imagem de Rosinha: “...A linda flor do meu/Sertão pernambucano/...” E convoca o vigário, pois que se não forem atrapalhados os planos e a boa safra chegar, com certeza, vai casar. E depois, já com Helena das Neves tomada por esposa, deu o nome de Rosinha a uma de suas filhas. Se foi de boa lembrança não se sabe e não se viu! Há vinte anos o homem se foi, encantou-se na dimensão definitiva, mas continua no dia-a-dia da gente do Nordeste, no embolador das feiras, que resiste nos rincões matutos, nas caatingas sofridas e nos desertos desolados. Na palavra de esperança do sertanejo de muita fé, que deposita no banco dos céus as economias de seu espírito, prometendo sacrifícios d’alma, esforços paridos do imaginário, se as nuvens que enchem o firmamento se abrirem, deixando correr as lágrimas de chuva que molham os campos, fazem crescer do gado o capim. Que permitem o milho botar boneca e o feijão ramar, de cada lado uma vagem. Deus permita que chegue a asa branca!
Há vinte anos o homem se foi, encantou-se na dimensão definitiva, mas continua no dia-a-dia da gente do Nordeste, no embolador das feiras, que resiste nos rincões matutos, nas caatingas sofridas e nos desertos desolados. Na palavra de esperança do sertanejo de muita fé, que deposita no banco dos céus as economias de seu espírito, prometendo sacrifícios d’alma, esforços paridos do imaginário, se as nuvens que enchem o firmamento se abrirem, deixando correr as lágrimas de chuva que molham os campos, fazem crescer do gado o capim. Que permitem o milho botar boneca e o feijão ramar, de cada lado uma vagem. Deus permita que chegue a asa branca! (*) - Uma homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do baião, o cantor dos sertões, dos convívios e das mulheres. Comente no espaço mesmo do Blog ou escreva para pereira@elogica.com.br ou para pereira.gj@gmail.com