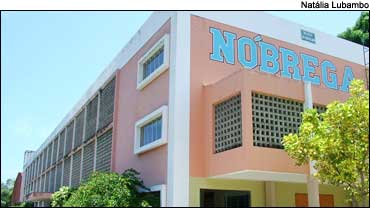Natal de 2008, francamente, foi delicioso. Não poderia ter sido melhor. As duas filhas que moram fora – uma na Espanha e outra no Ceará – encontraram-se aqui, em minha casa e, de certa forma, resgataram a família em sua inteireza. Fizeram como anos atrás costumavam fazer: conviveram. Simplesmente conviveram! Foi uma graça de Deus tê-las conosco, por muito pouco tempo, mas conosco. A mais velha, Fabiana de prenome, trouxe no ventre o filho primogênito, Pablo em espanhol, como convém ser a quem há de nascer em Madri. O porco, que cisca pra frente – e porco cisca? –, deu sustância à mesa e o bacalhau com batatas abriu o jantar bem cuidado. A alegria e o burburinho repetia os anos em que foram meninas e se esmeravam nas conversas e nas interrupções de quase interlúdios.
Natal de 2008, francamente, foi delicioso. Não poderia ter sido melhor. As duas filhas que moram fora – uma na Espanha e outra no Ceará – encontraram-se aqui, em minha casa e, de certa forma, resgataram a família em sua inteireza. Fizeram como anos atrás costumavam fazer: conviveram. Simplesmente conviveram! Foi uma graça de Deus tê-las conosco, por muito pouco tempo, mas conosco. A mais velha, Fabiana de prenome, trouxe no ventre o filho primogênito, Pablo em espanhol, como convém ser a quem há de nascer em Madri. O porco, que cisca pra frente – e porco cisca? –, deu sustância à mesa e o bacalhau com batatas abriu o jantar bem cuidado. A alegria e o burburinho repetia os anos em que foram meninas e se esmeravam nas conversas e nas interrupções de quase interlúdios. Já tínhamos cumprido a liturgia que precede a noite, o ritual das antecipações. A festa é boa por isso, pelo movimento dos preparativos, do antes das coisas, do ir e do vir no abastecer da dispensa. Foi sempre assim com a humanidade. Compramos o vinho, recomendado por quem de vinho entende, e o pão das preferências familiares. O queijo chegou de origens diversificadas, do Mercado da Encruzilhada, onde o tipo coalho faz sucesso e de uma loja de todas as finuras do Recife, o de cabra, sobretudo, mas aquele de manteiga também, dos gostos de toda gente, mas proibido no rigor da lei dos impedimentos nutricionais. Castanha do Pará e figo em conserva, mas ninguém dispensou a castanha de caju que de Fortaleza chegou. Acepipe tão nosso, em tudo regional. Um brinde dos convivas selou as afinidades parentais.
Já tínhamos cumprido a liturgia que precede a noite, o ritual das antecipações. A festa é boa por isso, pelo movimento dos preparativos, do antes das coisas, do ir e do vir no abastecer da dispensa. Foi sempre assim com a humanidade. Compramos o vinho, recomendado por quem de vinho entende, e o pão das preferências familiares. O queijo chegou de origens diversificadas, do Mercado da Encruzilhada, onde o tipo coalho faz sucesso e de uma loja de todas as finuras do Recife, o de cabra, sobretudo, mas aquele de manteiga também, dos gostos de toda gente, mas proibido no rigor da lei dos impedimentos nutricionais. Castanha do Pará e figo em conserva, mas ninguém dispensou a castanha de caju que de Fortaleza chegou. Acepipe tão nosso, em tudo regional. Um brinde dos convivas selou as afinidades parentais. Mas o que existe de pitoresco em uma noite de Natal ou nos preparativos da ceia? Lembrei de meu tempos de menino, do peru que vinha como presente todos os anos e de como se engordava e se matava a ave que passou décadas adotada como típica da noite em que o Menino nasceu. O bicho ganhava peso às custas de uma farofa de bolão que se introduzia, goela abaixo, para que o animal pegasse peso e se prestasse, da melhor forma, à mesa. Na véspera, como de praxe, devia-se passar a faca no pescoço do penoso e prepará-lo para o degustar noturno. Isso era um drama, porque o peru não se entregava com facilidade e era preciso oferecer uma dose de aguardente bem calibrada para que durante a bebedeira se degolasse o justo. A minha avó, ciosa de seus compromissos culinários, gritava em voz alta para mim:
Mas o que existe de pitoresco em uma noite de Natal ou nos preparativos da ceia? Lembrei de meu tempos de menino, do peru que vinha como presente todos os anos e de como se engordava e se matava a ave que passou décadas adotada como típica da noite em que o Menino nasceu. O bicho ganhava peso às custas de uma farofa de bolão que se introduzia, goela abaixo, para que o animal pegasse peso e se prestasse, da melhor forma, à mesa. Na véspera, como de praxe, devia-se passar a faca no pescoço do penoso e prepará-lo para o degustar noturno. Isso era um drama, porque o peru não se entregava com facilidade e era preciso oferecer uma dose de aguardente bem calibrada para que durante a bebedeira se degolasse o justo. A minha avó, ciosa de seus compromissos culinários, gritava em voz alta para mim: - Geraldo! Vá à venda de seu João e peça uma dose de aguardente. Explique que é para matar o peru, senão ele pensa que seu pai vai tomar.
- Geraldo! Vá à venda de seu João e peça uma dose de aguardente. Explique que é para matar o peru, senão ele pensa que seu pai vai tomar.Eu cumpria à risca a recomendação da avó paterna! Mas, essa era uma explicação completamente desnecessária,  porque não havia dúvidas quanto à sobriedade de meu pai, dia por dia e hora por hora. Mas, se era para dizer, eu dizia e resposta, francamente, nunca me deram, senão a entrega do copo que oferecia nas mãos de seu Erasmo – dizia minha mãe que era um interessado no estabelecimento –, dele mesmo recebendo, sem delongas. Introduziam a bebida na garganta do bicho e passavam a faca no pescoço. Muitas vezes assisti o animal sair correndo, sangrando e completamente embriagado, trocando as pernas – coitado! –, sem destino, quase se pode dizer. Mas, daí a pouco entregava os pontos e morria, sendo despenado e levado ao forno em recipiente apropriado.
porque não havia dúvidas quanto à sobriedade de meu pai, dia por dia e hora por hora. Mas, se era para dizer, eu dizia e resposta, francamente, nunca me deram, senão a entrega do copo que oferecia nas mãos de seu Erasmo – dizia minha mãe que era um interessado no estabelecimento –, dele mesmo recebendo, sem delongas. Introduziam a bebida na garganta do bicho e passavam a faca no pescoço. Muitas vezes assisti o animal sair correndo, sangrando e completamente embriagado, trocando as pernas – coitado! –, sem destino, quase se pode dizer. Mas, daí a pouco entregava os pontos e morria, sendo despenado e levado ao forno em recipiente apropriado.
 Hoje, tudo mudou e mudou completamente. Inventaram um tender e criaram um chester. Novidades da modernidade, substitutos do porco e suplente, em pleno exercício, do velho peru. Ninguém sabe mais o que é um peru bêbado, sem rumo, trocando as pernas como se gente fosse ou se gente pudesse ser. Ninguém sabe também como é um chester vivo e a esse propósito divulgo a fotografia que encontrei na Internet, de uma ave assim - um chester - vivo e bulindo. Havia quem acreditasse que sendo chester, só existiria morto ou não existiria, digamos.
Hoje, tudo mudou e mudou completamente. Inventaram um tender e criaram um chester. Novidades da modernidade, substitutos do porco e suplente, em pleno exercício, do velho peru. Ninguém sabe mais o que é um peru bêbado, sem rumo, trocando as pernas como se gente fosse ou se gente pudesse ser. Ninguém sabe também como é um chester vivo e a esse propósito divulgo a fotografia que encontrei na Internet, de uma ave assim - um chester - vivo e bulindo. Havia quem acreditasse que sendo chester, só existiria morto ou não existiria, digamos.
 Mas, dos meus natais todos ficaram os presentes de fim de ano que me dava o meu pai. Dentre todas essas lembranças, nunca esqueci dos passeios à rua da Aurora, à beira do Capibaribe, onde nos debruçávamos no caís e víamos de longe – de muito longe – o Governador na varanda do Palácio das Princesas. Passeios que terminaram, infelizmente, mas que permanecem vivos em minhas memórias. Certa vez, no amanhecer do dia 25, quando os meninos da rua recebiam os presentes da Fábrica TSAP, eu tirava de baixo da cama uma mannlicher – podia se dá arma de brinquedo no Natal –, com a qual dava tiros no nada das coisas. Usava rolhas de cortiça como balas e tinha a força do ar comprimido, mesmo frágil, no acionar do gatilho.
Mas, dos meus natais todos ficaram os presentes de fim de ano que me dava o meu pai. Dentre todas essas lembranças, nunca esqueci dos passeios à rua da Aurora, à beira do Capibaribe, onde nos debruçávamos no caís e víamos de longe – de muito longe – o Governador na varanda do Palácio das Princesas. Passeios que terminaram, infelizmente, mas que permanecem vivos em minhas memórias. Certa vez, no amanhecer do dia 25, quando os meninos da rua recebiam os presentes da Fábrica TSAP, eu tirava de baixo da cama uma mannlicher – podia se dá arma de brinquedo no Natal –, com a qual dava tiros no nada das coisas. Usava rolhas de cortiça como balas e tinha a força do ar comprimido, mesmo frágil, no acionar do gatilho.
 porque não havia dúvidas quanto à sobriedade de meu pai, dia por dia e hora por hora. Mas, se era para dizer, eu dizia e resposta, francamente, nunca me deram, senão a entrega do copo que oferecia nas mãos de seu Erasmo – dizia minha mãe que era um interessado no estabelecimento –, dele mesmo recebendo, sem delongas. Introduziam a bebida na garganta do bicho e passavam a faca no pescoço. Muitas vezes assisti o animal sair correndo, sangrando e completamente embriagado, trocando as pernas – coitado! –, sem destino, quase se pode dizer. Mas, daí a pouco entregava os pontos e morria, sendo despenado e levado ao forno em recipiente apropriado.
porque não havia dúvidas quanto à sobriedade de meu pai, dia por dia e hora por hora. Mas, se era para dizer, eu dizia e resposta, francamente, nunca me deram, senão a entrega do copo que oferecia nas mãos de seu Erasmo – dizia minha mãe que era um interessado no estabelecimento –, dele mesmo recebendo, sem delongas. Introduziam a bebida na garganta do bicho e passavam a faca no pescoço. Muitas vezes assisti o animal sair correndo, sangrando e completamente embriagado, trocando as pernas – coitado! –, sem destino, quase se pode dizer. Mas, daí a pouco entregava os pontos e morria, sendo despenado e levado ao forno em recipiente apropriado. Hoje, tudo mudou e mudou completamente. Inventaram um tender e criaram um chester. Novidades da modernidade, substitutos do porco e suplente, em pleno exercício, do velho peru. Ninguém sabe mais o que é um peru bêbado, sem rumo, trocando as pernas como se gente fosse ou se gente pudesse ser. Ninguém sabe também como é um chester vivo e a esse propósito divulgo a fotografia que encontrei na Internet, de uma ave assim - um chester - vivo e bulindo. Havia quem acreditasse que sendo chester, só existiria morto ou não existiria, digamos.
Hoje, tudo mudou e mudou completamente. Inventaram um tender e criaram um chester. Novidades da modernidade, substitutos do porco e suplente, em pleno exercício, do velho peru. Ninguém sabe mais o que é um peru bêbado, sem rumo, trocando as pernas como se gente fosse ou se gente pudesse ser. Ninguém sabe também como é um chester vivo e a esse propósito divulgo a fotografia que encontrei na Internet, de uma ave assim - um chester - vivo e bulindo. Havia quem acreditasse que sendo chester, só existiria morto ou não existiria, digamos. Mas, dos meus natais todos ficaram os presentes de fim de ano que me dava o meu pai. Dentre todas essas lembranças, nunca esqueci dos passeios à rua da Aurora, à beira do Capibaribe, onde nos debruçávamos no caís e víamos de longe – de muito longe – o Governador na varanda do Palácio das Princesas. Passeios que terminaram, infelizmente, mas que permanecem vivos em minhas memórias. Certa vez, no amanhecer do dia 25, quando os meninos da rua recebiam os presentes da Fábrica TSAP, eu tirava de baixo da cama uma mannlicher – podia se dá arma de brinquedo no Natal –, com a qual dava tiros no nada das coisas. Usava rolhas de cortiça como balas e tinha a força do ar comprimido, mesmo frágil, no acionar do gatilho.
Mas, dos meus natais todos ficaram os presentes de fim de ano que me dava o meu pai. Dentre todas essas lembranças, nunca esqueci dos passeios à rua da Aurora, à beira do Capibaribe, onde nos debruçávamos no caís e víamos de longe – de muito longe – o Governador na varanda do Palácio das Princesas. Passeios que terminaram, infelizmente, mas que permanecem vivos em minhas memórias. Certa vez, no amanhecer do dia 25, quando os meninos da rua recebiam os presentes da Fábrica TSAP, eu tirava de baixo da cama uma mannlicher – podia se dá arma de brinquedo no Natal –, com a qual dava tiros no nada das coisas. Usava rolhas de cortiça como balas e tinha a força do ar comprimido, mesmo frágil, no acionar do gatilho.(*) - Crônica de Natal, resgate do meu ontem e do meu pretérito distante, bem distante. Texto que ofereço ao meu dileto amigo Roberto Monteiro, Bob por apelido e coronel por derradeiro, a quem, sem querer, acordei para uma consulta em minha grafia: "Como se escreve mannlicher?". E ele foi de uma atenção e de uma gentileza que só o
tempo de amizade pode explicar. Comente se desejar para pereira@elogica.com.br ou para pereira.gj@gmail.com Se não desejar nada comente ou não se pronuncie, mas tenha um Feliz Natal e um Ano Novo de felicidades. Segue também oferecido a Juliana Moroni, amiga aqui das filhas, prestes a viajar para a China. Loura, como está, vai impressionar multidões.














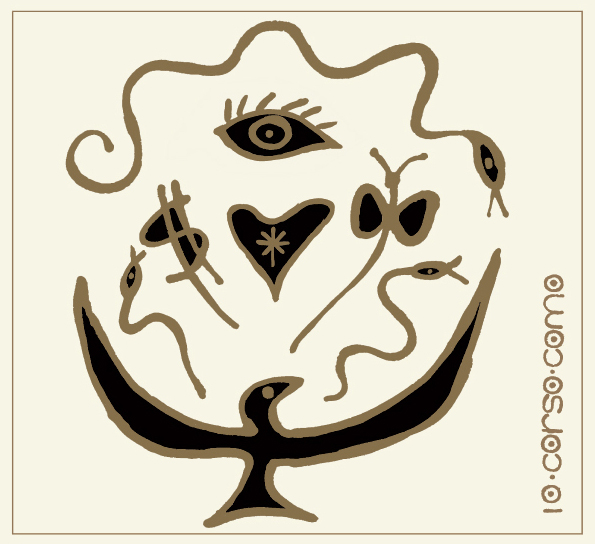







.jpg)